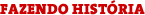Maurício Valladares
Roncador, com muito amor
Entrevista com o DJ, fotógrafo e figuraça Maurício Valladares. Matéria publicada na Revisa Outracoisa número 19, de março de 2007. Foto: Romulo Fritscher.
 Quando voltou ao Brasil, depois de morar em Londres, no início dos anos 80, Maurício Valladares deu de cara com o projeto de um rádio que se instalaria na pequena Niterói. Na “revolucionária” Fluminense FM, fez história apresentando novidades do naipe de U2, Echo And The Bunnymen, New Order. Separou Paralamas e toda a turma de Brasília do joio e deu de bandeja para o mercado do rock nacional. Quando percebeu que a rádio começava a perder a vocação para a vanguarda, desandou a fazer programas ao vivo em várias emissoras. Atualmente, comanda o “Ronca Ronca”, terças-feiras, 22h, na Oi FM. Programas que se transformaram em badaladas festas e até em disco. Como fotógrafo, clicou artistas, muitos artistas: Legião Urbana, Ed Motta, Lulu Santos. E é até hoje fotógrafo oficial dos Paralamas, banda sobre a qual acaba de publicar um livro cobrindo os 25 anos de carreira. Um tal Bob Marley, que de passagem pelo Brasil vestiu a camisa 10 de Pelé numa pelada na casa de Chico Buarque, também não escapou de suas lentes. Comunicador nato, Mau Val defende um estilo bem próprio de fazer rádio, algo que vai muito além do ecletismo e do bom gosto das músicas que leva ao ar há mais de 20 anos. Tudo para fazer o ouvinte “mais feliz do que antes”.
Quando voltou ao Brasil, depois de morar em Londres, no início dos anos 80, Maurício Valladares deu de cara com o projeto de um rádio que se instalaria na pequena Niterói. Na “revolucionária” Fluminense FM, fez história apresentando novidades do naipe de U2, Echo And The Bunnymen, New Order. Separou Paralamas e toda a turma de Brasília do joio e deu de bandeja para o mercado do rock nacional. Quando percebeu que a rádio começava a perder a vocação para a vanguarda, desandou a fazer programas ao vivo em várias emissoras. Atualmente, comanda o “Ronca Ronca”, terças-feiras, 22h, na Oi FM. Programas que se transformaram em badaladas festas e até em disco. Como fotógrafo, clicou artistas, muitos artistas: Legião Urbana, Ed Motta, Lulu Santos. E é até hoje fotógrafo oficial dos Paralamas, banda sobre a qual acaba de publicar um livro cobrindo os 25 anos de carreira. Um tal Bob Marley, que de passagem pelo Brasil vestiu a camisa 10 de Pelé numa pelada na casa de Chico Buarque, também não escapou de suas lentes. Comunicador nato, Mau Val defende um estilo bem próprio de fazer rádio, algo que vai muito além do ecletismo e do bom gosto das músicas que leva ao ar há mais de 20 anos. Tudo para fazer o ouvinte “mais feliz do que antes”.
Quando começou a carreira na área musical?
No rádio, foi na Fluminense FM, em 82, mas eu já trabalhava freneticamente escrevendo e fotografando para tudo que é jornal e revista de música. Eu escrevi em tudo o que foi jornal e revista de música: “Pipoca Moderna”, “Jornal da Música”, “Som Três”, uma porrada de jornal desses que ficava dois, três meses na banca e só. Passei os anos de 1980 e 1981 em Londres, voltei quando o projeto da rádio estava sendo tocado. Como era amigo do Luiz Antonio (Mello, idealizador), foi natural ele me chamar, ele estava montando uma equipe de pessoas que gostavam de música, não necessariamente que tivesse experiência.
O que marcou aquela época?
Foi a possibilidade não só de fazer programa (“Rock Alive”), mas de estar envolvido num veículo de comunicação que mostrava muita música nova, desconhecida, isso no caso do programa. Ter essa oportunidade de fazer isso numa rádio totalmente fora dos padrões da rádio estabelecida, com uma cara, um comprometimento, sem jabá e coisas o gênero. Isso não tem preço.
Como você vê o desempenho da rádio na época?
A rádio funcionou muito mais pela carência que existia de ouvir coisas diferentes do que por aquilo que oferecia. Ela poderia ser mais ousada. Não que não fosse… Mas, como a caretice imperava, se destacava por mostrar alguma coisa fora do convencional. Cumpriu o papel dela, e não só musical, mas de estar ligada ao Circo Voador, ter possibilitado as bandas novas, ter uma plástica diferente, com locução feminina, um jornalismo diferente, uns programas engraçados. Isso é muito importante para rádio, tanto que criou uma cara. Talvez até a identificação da Fluminense não seja nem musical, seja a coisa da imagem que ela tinha.
Você saiu de lá bronqueado achando a rádio muito conservadora…
É porque o que a Fluminense fez em poucos anos passou a não ser mais novidade. O destaque da Fluminense no início passava pelo que eu fazia, com a Liliane (Yusim, locutora e produtora) e o Serginho Vasconcellos (produtor). Mas U2, Legião, Paralamas, The Cure, New Order… passaram a tocar nas outras rádios. A nossa intenção era que a rádio inventasse um novo caminho que viesse mais adiante a ser igualmente seguido pelas outras, não podia ficar naquela. Entre a Island (gravadora do U2) fazer uma promoção do U2 com a Fluminense ou com a Rádio Cidade, ela fazia com a Cidade, tinha muito mais audiência, condição de promoção. Tínhamos perdido a exclusividade das coisas que foram lançadas por nós. A rádio precisava encontrar outro caminho, porque ela virou mais uma no dial. A Fluminense se destacou porque era a coisa diferente; na hora em que passou a ser mais uma, perdeu a importância total, porque tinha um som ruim, porque era de Niterói, as pessoas não iam lá. Na hora em que ela deixou de ser diferente, as outras atropelaram.
Você não conseguiu colocar essa coisa diferente…
Eu queria dar uma tonalidade mais escura na programação. Em meados dos anos 80, a black music no Brasil estava muito forte. Músicas africanas, Tim Maia e Jorge Ben estavam começando a aparecer de novo para um público jovem, coisas de samba que nunca foram tocadas numa rádio pop. Nossa idéia era transformar a programação da Fluminense num canal de música black, sem deixar de tocar outras coisas, mas mudando o peso delas. Ao invés de tocar The Who 25 vezes num dia, tocaria três, e no lugar do The Who entraria Fela Kuti, Luiz Melodia, reggae, dub. Trabalhamos para isso, só que na hora o negócio não foi ao ar, aí eu não tinha mais o que fazer lá.
Que bandas internacionais você apresentou em primeira mão?
Todas essas dos anos 80, de Gang of Four a Echo And The Bunnymen, Joy Division, The Beats, Madness, toda essa onda punk, pós-punk. Eu tinha visto muita coisa em Londres, vi o U2 lançando o primeiro disco, “Boy”, em 80, e aqui quando eu comecei a tocar ninguém sabia o que era.
Entre os nacionais, além dos Paralamas, que outras bandas você revelou?
Essa turma de Brasília, Legião, Plebe, Capital. Na época, as coisas que estavam acontecendo, tipo Biquíni Cavadão, que mandou uma demo e a gente ficou um tempão sem dizer o que era. Obina Shock na época fez um sucesso, dentro dessa onde de black.
Como você começou a fazer festas?
Seriamente e regularmente foi a partir da conexão com o programa da Fluminense, as pessoas me chamavam. Durante muito tempo, fiz no Parque Lage, antes dos shows. Sempre com as pessoas me chamando em virtude do que elas ouviam no programa. O DJ é o programa, o resto é uma conseqüência.
Depois da Fluminense…
Comecei a fazer o “Ronca Tripa”, na Panorama. Foi o meu primeiro programa depois da Fluminense, que durou três anos. Fui para a Globo FM, fiquei três anos com o “Radiola”. Minha intenção era ter um nome só, “Ronca Tripa”, mas quando fui para a Globo, eles queriam uma coisa nova, aí eu inventei o “Radiola”. Depois, pintou o negócio do “Ronca Ronca”, porque já tinha a festa e ficou o nome. Na Rádio Cidade, mantiveram o “Ronca Ronca”, e na Oi também. Mas o programa é o mesmo desde sempre.
A sua programação é muito eclética, atrai fãs de coisas diferentes. Como você identifica o seu público?
Acho que é basicamente um cara curioso por música. O camarada que é fissurado em reggae pode ouvir o meu programa, mas vai se incomodar muito. E assim é com o de rock, o de música eletrônica… Então ele tem que ser um curioso, por mais que tenha um estilo predileto. Se você gosta de dub, na hora que tocar um Neil Young, você vai achar bacana porque você é um curioso, quer saber o que é aquilo. Mas tudo na vida depende muito de como você é apresentado. Eu tenho relatos de carta e e-mail de muita gente que fala isso. Eu não gostava disso e daquilo, mas na forma como você apresenta, esse tipo de música que eu não gostava se encaixa nas outras. A pessoa tem que estar aberta a querer se informar. Isso eu tenho de resposta, não foi inventado. Quando o “Ronca Ronca” começou, as pessoas começaram a identificar como festa de música eclética para pessoas igualmente diferentes. Depois, houve uma segmentação com o decorrer do tempo, e hoje tudo que tem por aí quer ser eclético.
Está na moda ser eclético…
É o objetivo de todo mundo, ser entendido e falar com o maior número possível de pessoas. Claro que tem a segmentação, o pessoal do reggae, do hardcore, do samba. Mas se você se dispõe a falar de muita coisa e ser entendido por muita gente, vai cair nesse negócio do eclético, que virou um saco de gatos, porque eclético é que nem funk… Funk hoje não é mais o Parliament, do George Clinton, funk hoje é o Marlboro. O eclético também virou um samba do crioulo doido, um negócio que pode ser qualquer coisa, e às vezes não é bem assim.
Você consegue ver uma rádio segmentada, dedicada a um só gênero musical?
Consigo, mas não seria a rádio dos meus sonhos, porque não tem estilo que tenha 100% de coisa boa, que mantenha a rádio funcionando. E como a minha história é a coisa da informação variada e ampla, eu não tenho interesse em trabalhar em nenhuma rádio que se feche num estilo só. Até existem rádios de música clássica, de mpb, que fazem certo sucesso, mas isso não é pra mim.
Como seria a sua rádio?
Exatamente como é o meu programa, seguiria a idéia de mostrar um grande número de estilos musicais. O Luiz Antonio é que sempre foi contrário à coisa do ecletismo.
A Fluminense pregava a segmentação…
Ele dizia que a princípio pode ser muito fácil fazer um bolo, tá ali o chocolate, a farinha, a manteiga, mas na hora de misturar, se não souber, vai dar errado. Misturar é difícil, ainda mais agora que o eclético virou um saco de gatos. Não basta ser eclético, querer agradar a todo mundo ou mostrar vários tipos de música, é preciso saber fazer isso, dosar as coisas. Com o tempo que eu tenho de rádio, tenho certeza absoluta que hoje eu peguei um jeito de fazer esse bolo. É experiência, receber carta, errar, acertar, errar, e ter essa afinação com quem está ouvindo. Tenho resposta de tudo quando é tipo de gente, de todas as idades. O negócio é como ela pode abrir a cabeça e ser mais feliz do que era antes, através do que a música pode dar.
Você ainda atua como fotógrafo?
Acabei de lançar um livro do Paralamas. São fotos da história deles toda, de 82 até 2006. As fotos mais recentes são da participação deles no “Ronca Ronca” do ano passado. Eu fiquei muito orgulhoso porque ficou muito bom, tem fotos de divulgação de todos os discos, um texto do (Arthur) Dapieve contando a história e fotos-legendas com observações deles. Hoje, atuo muito pouco como fotógrafo, é mais para quem quer muito que eu fotografe. Duas das minhas atividades se tornaram coisas corriqueiras e acessíveis a qualquer pessoa: fotógrafo e DJ. Todo mundo hoje em dia quer ser fotógrafo, uma banda não precisa ter um fotógrafo, qualquer cara que faz fotografia, bota no Photoshop e faz o que quiser com ela, bota na China, em Niterói, bota louro, moreno, tira roupa, bota roupa. E DJ qualquer um é, não precisa nem ter disco, é só baixar as coisas, levar o iPod e tocar.
Te incomoda isso de todo mundo ser DJ?
Filosoficamente, eu acho ótimo, mas me atrapalha porque, em várias situações em que as pessoas me chamam para fazer uma festa, eu dou um orçamento e depois o cara chama um amigo que diz que faz som. Mas o fato de ter música espalhada é maravilhoso, acaba sendo bom para mim de alguma maneira, porque é mais fácil uma pessoa desse jeito entender um programa como o “Ronca Ronca”.
Você acompanhou a passagem do Bob Marley pelo Brasil…
Ele veio ao Brasil em 80 para o lançamento da Island, que era o selo dele. Eles me chamaram para fotografar pela gravadora, e eu fiquei com eles direto, fui para todos os lugares. Foi o maior barato, e as fotos ficaram na história.
Como foi o trabalho de diretor artístico?
Foram seis anos na BMG. Foi ótimo, eu nunca tive nenhum problema, e é uma coisa complicada trabalhar artistas desconhecidos numa gravadora multinacional, preocupada com retorno imediato. Não deu para fazer muita coisa por causa da estrutura da gravadora, mas foi bom porque eu relancei lá os artistas do selo Plug, DeFalla, Violeta de Outono, Picassos Falsos. O cara que saía para trabalhar Devotos do Ódio era o mesmo que saía para trabalhar Fábio Jr, aí complica.
Por que não trabalhou mais com isso?
Eu nunca quis trabalhar em gravadora, não era uma estrutura em que eu tivesse certeza de poder ficar e colaborar, entender e ser entendido. Já trabalhei para elas, mas na hora em que você entra passa a ser uma peça da estrutura, e isso não funcionaria comigo.
Sua ocupação principal é de radialista, você paga as contas com ela?
Não pago, mas é uma atividade que estou determinado a fazer com que progrida e venha a pagar. A Oi me entende e tem a minha presença lá como uma coisa importante para eles. A Oi é uma operadora de celular que tem entre as suas várias pontas de marketing e promoção uma rádio. Não funciona como um sistema tradicional de rádio, é um outro enfoque, outro dinamismo. Dentro deste novo mundo, eu quero ver a possibilidade de ter uma maior participação.
De que tipo?
O programa pode ser diário, várias pessoas de rádio já falaram isso. Mas seria necessária uma estrutura de retorno financeiro. Isso é o que eu mais gosto de fazer, e onde eu tenho o maior retorno. E não é só de ouvinte. Todo artista que grava vinheta faz isso porque sabe que é importante participar. E tem as pessoas mais simples, como a história de um camarada que estava andando no Mourisco com uma camisa do Who, aí veio um morador de rua e disse que gostava do Who, mas que a música de hoje é uma porcaria, que única coisa que ele ouve é o “Ronca Ronca”, e o cara só tem um rádio de pilha. Se eu tenho esse cara me ouvindo, tenho um monte de gente importante me dando respaldo, tenho uma audiência, um monte de participação falando de como as terças-feiras passaram a ser um outro momento dentro da semana, pelo que eu toco e falo, e pelas pessoas que eu levo, eu tenho é que investir nisso.
Como você vê o mercado musical hoje, com essa grande quantidade de informação?
Acho espetacular, a coisa mudou radicalmente. Um livro como o do Paralamas é literalmente um produto do século passado, nenhuma banda que começar hoje vai durar 25 anos. As coisas são muito mais espalhadas, o cara faz uma banda, faz o site, a gravadora e se lança. Lança dois, três discos com um nome e depois inventa outro. Eu tô nesse barco, por mais que eu não vá ajudar a remar.
E esse negócio de aparecer sempre uma nova banda que é a sensação e depois outra, e outra…
Sempre foi assim, só está muito mais veloz porque a rotatividade é maior. Se você não ficar se reinventando, nego não compra jornal, não ouve rádio, não faz nada. Quando recebo um compacto que saiu ontem, ele já é velho. Na época da Fluminense, o jornal chegava com dois meses de atraso, eu falava, ninguém sabia o que eu tava falando, essa informação ficava no ar mais dois meses e todo mundo achando que era a novidade absurda. Eu hoje estou falando da lista de 50 discos com uma semana de atraso, só que todo mundo já sabe. Então se eu tocar um disco ele já é velho e é assim mesmo, a bola vai girando.
Você transita bem nesse mundo da internet?
Não tenho muita afeição a essas coisas de música que não existe fisicamente. Pra mim, tem que ter o disco, eu nunca toquei um mp3 no programa, nem CDR. Já toquei mp3 do Neil Young, que ele colocou no site para baixar, esse é o jeito. Agora, baixar música, não, eu prefiro incubar o meu tesão até ter o disco, sentir o cheiro do disco, ver as letras, o encarte, os créditos, do que matar esse tesão baixando uma música. Eu não consigo desvencilhar uma coisa da outra.
Você não teme não apresentar coisas tão novas justamente por não ter baixado?
Não. Eu não estou lá para tocar disco, tocar música. É muito fácil ter programa de rádio, basta baixar todas músicas que foram lançadas nos últimos dois meses. Agora, tocar uma música do Captain Beefheart e as pessoas acharem que é o novo single do Arctic Monkeys… essa é a finalidade do programa. Eu quero ser entendido como alguém que trouxe uma informação nova, mostrou um jeito diferente de ouvir uma música.
Tags desse texto: Fluminense FM, Maurício Valladares, Outracoisa