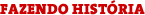A psicodelia de Júpiter Maçã
Entrevista feita nos bastidores do Abril Pro Rock de 1998, no Recife, e publicada na edição 14 da Rock Press, de junho do mesmo ano. Foto: Marcos Bragatto.
 Na década de 90 o Brasil sofreu a ditadura das bandas que primeiro alcançaram certa projeção dentro do mercado. Assim, na ânsia de também conseguir um lugar ao sol, surgiram milhares de Planets, Raimundos, batucadas e palavrões. Poucos buscaram uma alternativa.
Na década de 90 o Brasil sofreu a ditadura das bandas que primeiro alcançaram certa projeção dentro do mercado. Assim, na ânsia de também conseguir um lugar ao sol, surgiram milhares de Planets, Raimundos, batucadas e palavrões. Poucos buscaram uma alternativa.
Um deles é o gaúcho Júpiter Maçã, que lançou o álbum mais inesperado da década, mistura de psicodelismo, anos 60, folk e chapação. Pink Floyd, Bob Dylan, Byrds, Cream, tudo misturado, ajeitado e arrumado sob sua ótica louca. “A Sétima Efervescência”, lançado em 97 pelo selo Antídoto, e muitíssimo bem produzido, mostra a explosão criativa de um artista que, “longe demais das capitais”, ignorou o que se passava em sua volta e descobriu uma forma diferente de se expressar.
Júpiter Maçã é, na verdade, Flávio Basso, que participou dos Cascavelletes e do TNT, bandas gaúchas da década de 80. Hibernou por muito tempo, tendo contato com novas experiências e concebendo seu novo estilo. Em 95, participou da coletânea “Segunda Sem Lei” (Banguela), só com bandas gaúchas, com a faixa “Orgasmo Legal”, tocando todos os instrumentos, além de cantar.
Praticamente escalado para abrir a noite de domingo no palco principal do Abril Pro Rock deste ano, depois da apresentação de Lia de Itamaracá, Júpiter aos poucos foi fazendo o público entrar na sua viagem, e saiu com o mérito de ter sido o único artista, à exceção dos consagrados, a receber aplausos e pedidos de bis. E foi no camarim do festival, antes do show, que a Rock Press conversou com Júpiter, que é, na vida real, o próprio personagem de suas canções. Confira os principais trechos:
Por que você demorou tanto entre o término do Cascavelletes e o início desse novo trabalho?
Quando Os Cascavelletes acabaram, eu voltei a tocar com o TNT, afinal eu tinha sido um dos fundadores da banda, aquela coisa toda. Mas aí, nesse período, eu já fui me distanciando daquele tipo de música e parti para uma “trip folk singer”, uma coisa bem mais minha, solitário, de ficar tocando mesmo em casa, com violão e gaitinha. E desenvolvi durante esse período o meu jeito de escrever as canções, que viria a chegar a um estágio de maturidade, ao meu entender, um pouco depois.
Por que o pseudônimo Júpiter Maçã?
Bom, nesse período “folk singer”, eu tinha adotado - mas não cheguei a lançar nada - o nome de Woody Apple, em homenagem ao Woody Guthrie (andarilho, músico e precursor da contracultura americana dos anos 50 e 60) e toda aquela rapaziada que vinha me influenciando. Então a coisa da maçã já estava por ali, tipo assim, homenagem total aos Beatles. Júpiter, o meu avô, já usou esse pseudônimo também. Então, vovô e Beatles.
Houve uma mudança radical , você optou por um lado psicodélico, bem sixties…
Isso foi circunstancial. Na verdade, eu fui absorvido pela atmosfera psicodélica, por inúmeras razões.
Como assim, absorvido? Todo mundo afirma que você só faz esse tipo de música chapado, é verdade?
Eventualmente… mas isso é apologia!
Não necessariamente…
Não necessariamente, cara. Psicodelismo… interessante você ter colocado isso… psicodélico é um estilo de vida, uma concepção. Tipo assim, psicodélico, saturação, saturação das cores, saturação das formas e dos sentimentos, isso é psicodélico. E isso tem a ver com o estágio, de certa forma, da lucidez, ou busca da mesma. Então, busca da lucidez, busca da saturação, trabalhar a poesia em cima da saturação da estética das palavras, tipo assim, às vezes utilizando poucas palavras, tentar com que aquilo fique saturado. Isso é psicodélico. E no som, a mesma coisa. E a galera tem colocado o nosso som como psicodélico.
Como você selecionou o pessoal da banda, e porque, depois de gravar o álbum, resolveu trocar todo mundo?
Isso foi muito interessante, cara. Aqueles caras é que me acharam. Eles me escolheram, eles vieram, estavam morando em Curitiba, foram parar em Porto Alegre e sabiam que eu estava sem banda. Eles me procuraram e disseram que adorariam, que seria legal trabalhar comigo. A gente foi ensaiar e realmente deu certo. Só que, depois, eles gravaram o disco e resolveram ir embora. E aí outros dois apareceram nas mesmas circunstâncias. E bateu de novo, tipo assim, eu fui procurado pelas pessoas que estavam em sintonia com aquele tipo de som, tenho certeza que atraí os caras.
Por que você resolveu morar em São Paulo, e como estão indo as coisas por lá?
Em Porto alegre eu já sou famoso, uma pessoa confirmada no circuito, estabelecida. Então seria a sequência natural do trabalhos mesmo ir para São Paulo. E, no final das contas, eu tenho tocado em várias capitais do país, e com uma receptividade muito legal.
Como têm sido esses shows?
Tenho tocado para o meu público base, o similar do meu público lá de Porto Alegre, que é uma coisa gueto total, tipo inferninho, com umas 200, 300 pessoas. E são essas mesmas pessoas nas diversas capitais também.
Por que ao vivo você troca o termo “superchapadas” por “supersacadas” na música “Um Lugar do Caralho”?
Eu fui bastante inocente quando escrevi “Lugar do Caralho”, porque achei que ficou bonito, ficou legal, ficou simpático. Mas não era exatamente o que eu queria passar. Consciência e lucidez não têm exatamente a ver com chapação. Nos diversos estágios de chapação pode-se atingir lucidez e consciência, mas não necessariamente. Então: sacadas, conscientes. Na verdade, o personagem da canção, talvez meu alter-ego, quer encontrar todas as buscas de consciência, e não de pessoas chapadas, dopadas. Acho que foi uma sacada meio assim. Mas eu canto “chapadas” também, às vezes. É que ocasionalmente eu digo “sacadas”.
No show que vi no Rio notei que a banda nova tem uma sonoridade bem mais próxima do Cream, Byrds, ao passo que o álbum tende mais para o Pink Floyd…
Ao vivo o som vem sofrendo todo um processo de expansão a nível de power trio. E a linguagem tem sido essa, que, ao vivo, eu quero traduzir com experimentalismo e eventual desconstrução daquilo que em disco eu gosto de fazer com arranjos e com overdubs. E é exatamente isso mesmo.
Você não pensa em colocar um teclado ao vivo?
Penso em tocar teclado, sim, mais pra frente. Teria que ser um órgão bem antigo. Penso em fazer vários efeitos nos shows, mas penso em fazer tudo isso com uma certa releitura. Quero que fique com cara de revisitação, e não de cópia ou de revival, porque já deu pra tu perceber que essa não é a minha mesmo.
Já há material novo para o segundo álbum?
Vejo esse trabalho como um passo à frente. Vai ser mais Júpiter Maçã, crio eu que as influências vão ficar mais dissolvidas, ficarão menos perceptivas.
Você acha que este álbum está com pouca identidade?
Não, eu não acho isso, eu adoro esse trabalho. Era exatamente o que ele tinha que ser na hora que foi, e vem sendo. E ele ainda é bastante atual pra mim. Mas o próximo… enfim, é a sequência natural. São as mesmas infuências, mais algumas, e me parece mais homogêneo, mais ainda.
E o que você tem ouvido para achar isso?
São as coisas básicas, que, na verdade, já fazem parte da minha essência de compositor. No momento eu tenho ouvido bastante o “Younger Than Yesterday”, dos Byrds. Eu não conhecia esse disco, comprei e estou ouvindo direto, mas não que isso seja um referencial para o próximo trabalho.
Você não tem medo de estar ouvindo muito um tipo de coisa enquanto compõe, e o seu trabalho ficar muito parecido?
É provável que quando eu estou ouvindo um disco, direto mesmo, e eu estou apaixonado por ele, e eu venha a escrever uma canção naquele período, ela soe parecida. Mas aí tem uma série de fatores que podem diferenciá-la no estúdio, se for o caso. Porque às vezes eu deixo transparecer mesmo, deixo ficar… Mas não tenho medo que transpareça, não.
Tags desse texto: Júpiter Maçã, Rock Press