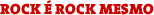Considerações sobre o Ruído 2005
O ano mal começou e só no Rio já aconteceram dois festivais. Na coluna de hoje, algumas considerações sobre o Ruído Festival, que aconteceu no último final de semana. Publicado originalmente no Dynamite on line.
Meus amigos, dizem que ano só começa depois do Carnaval. Se for assim, no pré ano de 2005 já tivemos dois festivais legais, e ambos no Rio. O Humaitá Pra Peixe tem se notabilizado pelo ecletismo das atrações e o Ruído, que desta vez aconteceu após o Carnaval, diferentemente dos outros anos, tem se tornado cada vez mais parte do circuito nacional de festivais independentes. Encontra-se, entretanto, numa encruzilhada. Precisa crescer e não tem pra onde. Explico. Por razões históricas e circunstanciais, o evento vem se realizando no Ballroom, um local, digamos, pouco afeito a festivais e a eventos rock de verdade. É fato que a casa, numa entressafra de bons palcos, honrou (e muito bem) o rock do Rio de Janeiro. Mas hoje os tempos são outros. Não que eu queira empurrar o Ruído para este ou aquele lugar, mas no Ballroom, é certo, ele não cabe mais.
Outra. O Festival foi criado e teve duas edições em apenas dois dias, e nos dois últimos anos passou a ser realizado em três, com seis bandas por noite. Precisa rever isso. Não é à toa que as bandas de abertura têm sempre pouco público, às “do meio” boa audiência, e as que fecham (os “headliners”, imaginem só), em geral, uns gatos pingados. Ou adapta-se o público ao formato, ou este ao público. Há também que se pensar melhor nas escalações de cada noite. Sábado teve a mais homogênea, e, portanto, melhor público. Será que o domingão hardcore ainda é válido? Ou faltou uma atração de peso para levar mais público? Não dá para acreditar que a culpa foi do show do Dance Of Days, organizado em Jacarepaguá, e que, segundo consta, levou cerca de 400 pessoas. Um amigo pessimista sempre diz que o público rock, do Rio, nunca passa de 1000 pessoas. Onde estavam, então, as outras 600? Por fim, não pode o organizador do evento tocar todo ano no festival. Rodrigo Quik precisa se valorizar, mesmo porque ninguém quer vê-lo todo ano no Ruído, ainda mais quando fica evidente que não há um trabalho consistente para mostrar (nesse a no foram só covers de bandas do underground, é mole?). Só o Ozzy pode tocar todo ano em seu próprio festival. E olhe lá.
Mas isso são só detalhes a serem ajustados. Porque o rock, que é o que interessa, rolou em três dias de muita festa, consagração e novidades também. E o que importa para quem é do Rio, é que nós também temos o nosso festival. É preciso dizer que não houve, nessa edição, shows espetaculares como os do Forgotten Boys e do Walverdes no ano passado, porque um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Duas outras bandas, de outro lado, não deixaram a desejar, e nem eram para ser citadas aqui, dado o status de “our concours”?. Primeiro o Acabou La Tequila. O coletivo (pra eles o termo “banda” já era) desfraldou as cortinas do Ballroom com guitarras empunhadas aos acordes do tema d’Os Trapalhões e fez um show impecável, com clássicos, músicas do disco “novo” e ainda covers de Júpiter Maçã e Graforréia Xilarmônica (Carlo Pianta estava no palco, embora mal conseguisse afinar sua guitarra). Depois, no dia seguinte, o Autoramas. Com repertório seleto, mesmo com o avançar da hora o trio não deixou o público se dispersar e fez um grande espetáculo, com até uma (ou duas?) música nova. O detalhe é que foi a primeira vez que a banda tocou no Brasil com a baixista Selma Vieira (ex-Jerks) no lugar de Simone, que saiu para ser feliz. Simone é genial, mas, como sabem, odeio viúvas que choram perdas pelos cantos. E Selma deu conta do recado, tocando e cantando muito bem, e mostrando que ainda pode melhorar. Tô com Selminha e não abro.
Surpresas, destaques e promessas. Essa deve ser a melhor parte. Érika Martins fez um dos melhores shows nessa área. Mais madura (no bom sentido) ela mostrou um trabalho consistente, pesado, bem feito e, ao mesmo tempo bem pop, no sentido de prender o ouvinte. Ou seja, ela compôs (ou escolheu para interpretar) boas canções, daquelas que colam. Para este velho rocker é bem fácil detectar isso, já que aqui mesmo foi dito que o álbum de covers que o Penélope gravou foi um equívoco (tanto que a banda acabou), mas mostrou o potencial de Érika como intérprete. Fazer muitos shows sempre é necessário, mas a banda de Érika já está prontinha. Tá na cara. Quem abriu a segunda noite foi o The Feitos. Para quem nunca tinha visto, o trio tem já um bom público, e vai muito além da ótima “Disco do Roberto”, o maior hit underground dos últimos tempos. Além da jovem guarda, eles bebem em outras fontes, como o rock gaúcho (horrível esse termo) e até no Autoramas, que já está dando cria. Só precisam falar menos e tocar mais. O Eletrola também vai por aí, mas há mais melodia e menos humor nas letras. Aliás, como elas tentam ser “hermânicas” (no pior dos sentidos). Há também mais peso no som dos paraenses, que precisam tocar ainda um pouco mais. Porque palco não faz mal a ninguém, meus amigos.
A única (e primeira e quatro anos) atração internacional do Ruído foi o uruguaio Supersónicos. O grupo é engraçado, mistura surf music com Devo, usa uniformes e projeta slides no canto do palco. Fizeram um bom show. O problema é que um deles acha que sabe português e desandou a falar um portunhol que mais parecia italiano. Um cara bem chato, a bem da verdade. Outro destaque merece o Los Vatos, trio de punk rock bem parecido com o Tequila Baby, sobretudo pelo sotaque do vocalista, mas que marcou pelas boas composições, coisa rara no atual choroso hardcore nacional.
Nem lá nem cá. Essa parte é mais ou menos. O Pipodélica abriu o festival prometendo rock. E fechou o set com rock também. Mas o show alternou momentos bem ruins. O duo vegetal Xuxu e Batata precisa resolver as vocalizações da banda. Ou até arrumar um vocalista. Ou distribuir protetores auriculares para a platéia. Para tudo há uma solução. Melhor fizeram Gramofocas e Sugar Kane no domingo. Mesmo sendo respectivamente de Brasília e Curitiba, ambos dominaram o público (pequeno, é verdade), o primeiro no melhor estilo bubblegum, e o segundo no hardcore mais rock que eu já vi. O veterano Pupilas Dilatadas demorou duas décadas para vir ao Rio, e praticamente abriu mão de tocar músicas próprias (como a ótima “Michê na JB”, que rolou) para fazer uma celebração do punk oitentista. Foi Inocentes, Ratos de Porão, Clash e Dead Boys (com vocal à Lemmy) para tudo quanto é lado. E não é que foi legal?
Nova versão do João Penca, o Pororocas não atrapalhou nem melhorou o festival. Muito pelo contrário. Passou batido mesmo. O som deles é bem surf music Beach Boys, mas as incorrigíveis piadas de outrora e a indumentária “pijama de asilo americano” não têm graça. O mérito foi terem feito um show quase todo com músicas inéditas. Só rolou o cover pra o hino da juventude, “Popstar”, porque ninguém é de ferro. No último dia, o Tchopu (que nome, né?) aqueceu na abertura, mas fracassou na mistura de nu-metal à Linkin Park e rock brasileiro dos anos 90. O cover para “Eu Quero Ver o Oco”, do Raimundos, foi patético. E o Emo. superou o preconceito do público hardcore e fez um bom show, sem cover nem violões. Bem melhor que antes.
O leitor mais atento e por dentro da escalação do Ruído 2005 deve ter notado que, ao longo desta coluna, nada foi citado sobre as três bandas de São Paulo que tocaram nesta edição. Deixei, de propósito, para o final, porque o assunto tem me deixado encafifado. Porque há, meus amigos, há algo de podre na paulicéia desvairada. Explico. Ou melhor. Não explico, não. Vou pensar melhor e deixar para a semana que vem porque o assunto é extenso, delicado, e merece a mais profunda reflexão do velho rocker.
Até a próxima, e long live rock’n'roll!!!
Tags desse texto: Acabou la Tequila, Autoramas, Eletrola, Érika Martins, Gramofocas, Los Vatos, Pipodélica, Pororocas, Pupilas Dilatadas, Ruído Festival, Sugar Kane, Tchopu, The Feitos