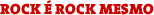Quando uma coletânea e um disco ao vivo valem a pena
Nos últimos anos aos álbuns do tipo ao vivo, acústico, de covers e coletâneas têm sido usados pelas gravadoras para faturar com o passado brilhante de certos artistas. Veja aqui duas exceções. Publicado originalmente no Dynamite on line.
Como tenho enfatizado, nos últimos anos aos álbuns do tipo ao vivo, acústico, de covers e coletâneas têm sido usados pelas grandes gravadoras para faturar com o passado brilhante de certos artistas. Ao invés de investir em novos grupos ou num trabalho inédito desses mesmos nomes, essas empresas multinacionais preferem apostar no sucesso mais fácil, rápido e, conseqüentemente, efêmero demais. Depois ficam choramingando pelos cantos por causa da pirataria, como se fosse esse o problema principal do mercado.
Um caso recente é o da banda Penélope. O grupo, originalmente nascido em Salvador, se chamava Penélope Charmosa, pipocava no underground do rock nacional até se apresentar, em 1997, no festival Abril Pro Rock, em Recife. Nessa época, os chamados “diretores artísticos” das gravadoras iam aos festivais à cata de novas bandas e foi assim que a Penélope, já sem o “Charmosa”, para não ter problemas com a famosa personagem de William Hanna & Joseph Barbera, assinou um contrato com a Sony. Durante uma conturbada relação com a gravadora, que atrasou lançamentos, o grupo conseguiu gravar dois álbuns, “Mi Casa Su Casa” e “Buganvília”. O som da banda nunca foi nada de revolucionário a ponto de ganhar destaque na coluna do Lúcio Ribeiro (mesmo porque Salvador não é Nova Iorque nem Londres), mas uma certa temática feminina “charmosa”, nas letras, na voz e na performance de palco da vocalista Érika Martins garantiam um bom approach para a banda, que sempre teve um grande potencial para o mercado nacional, no sentido amplo da coisa, de aparecer em rádio e TV.
Depois que saiu da Sony, o Penélope flertou com a gravadora Zomba Records, que durou pouco no Brasil e hoje é representada pela major BMG, mas resolveu lançar o terceiro disco pela Som Livre, selo de propriedade da Rede Globo, e que nos últimos anos só tem lançado coletâneas e trilhas para os programas da emissora mãe. Assim, o álbum “novo”, “Rock Meu Amor”, traz 13 versões para sucessos (fracassos também) do rock nacional em vários períodos da história. Ao invés de apostar em composições próprias, o Penélope deixou o mercado utilizar o formato que o próprio grupo criou para tentar vender fácil no mercado. Afinal, veicular músicas consagradas como “Nosso Louco Amor” (Gang 90, tema de novelas das 8), “Fórmula do Amor” (hit das FMs na década de 80, nas vozes do comentarista esportivo Léo Jaime e de Paula Toller), e “Estúpido Cupido” (versão famosa da voz de Celly Campelo, falecida há pouco), parecia simples, certo? Bem, tem também “Eu Tenho Uma Camiseta escrita Eu Te Amo”, do Wander Wildner, e até “Holiday”, cover do próprio Penélope. Dá ou não dá vontade de combater esses artifícios mercadológicos?
Ainda mais depois de descobrir, há cerca de um mês, que o citado Wander Wildner teve que virar uma espécie de pirateador de si próprio para sobreviver. É que o baladeiro punk brega tem discos lançados por gravadoras que não se interessam em manter seu trabalho no mercado. Como faz muitos shows nos quais o público comparece e se dispõe a desembolsar o faz-me rir, o próprio Wander copia seus discos oficiais em versões piratas para poder atender a essa demanda, para a qual a gravadoras estão sempre de costas. Outro caso peculiar é o de Lobão, famoso por criar polêmica e falar tudo o que pensa, mas que já há algum tempo está exilado das rádios por ele mesmo. Explico. Boa parte da programação das rádios no Brasil inclui um ou outro clássico (dentre tantos) gravado pelo músico enquanto ele era contratado de uma das grandes gravadoras. Mas os programadores se recusam a tocar qualquer música nova dele, sem o (ilegal, diga-se de passagem) pagamento do jabá. Assim o público é privado de ouvir as novas músicas do grande lobo, e não pode sequer decidir se elas são ou não boas como “as antigas”. Menos pior no caso do Lobão, que embora reclame não receber corretamente seus direitos autorais, consegue, por causa de sua visibilidade na mídia como um todo, vender bem nas bancas de jornal. Coisa certamente mais difícil para Wander Wildner.
Mas nem sempre foi assim. Discos do tipo acústico, ao vivo, de covers ou coletâneas nem sempre foram esses artifícios sujos para encher o bolso da gravadora e das bandas (sim, elas têm culpa no cartório também). Existem bons discos acústicos, e o exemplo clássico é o do Nirvana, que pode até ter sido feito com o objetivo de arrecadar milhões (embora a banda não estivesse em decadência, muito pelo contrário), mas acabou passando toda a angústia e melancolia de um Kurt Cobain às vésperas do suicídio. O disco ao vivo, nos bons tempos, pressupunha a existência de uma turnê de sucesso da banda, o que só acontecia depois da gravação de uns cinco álbuns. O Police, por exemplo, só teve o seu ao vivo lançado depois de ter feito cinco álbuns de estúdio, e isso depois de a banda ter acabado. O U2, depois de três. O pioneiro da armação no Brasil foi o RPM, que só tinha um disco quando lançou “Rádio Pirata Ao Vivo”, em 1988, para bater o recorde de vendagens de um grupo musical no Brasil. Hoje em dia tem artista que já estréia com um ao vivo. Já as coletâneas foram inventadas para manter o nome de determinado artista no mercado, quando este está em férias ou quando uma gravadora o dispensa, mas ainda quer faturar com ele, mesmo já estando numa outra empresa ou em uma carreira independente. E os álbuns de covers seriam para homenagear ídolos e influências de determinado grupo.
Dois exemplos recentes mostram como esses formatos podem ser usados (ao contrário do caso Penélope) corretamente. O primeiro é “Burning Down The Opera Live”, do grupo de heavy metal melódio Edguy. É o primeiro álbum ao vivo do grupo, que nos últimos anos vem tendo um expressivo crescimento no meio em todo o mundo, inclusive no Brasil. Para se ter uma idéia, em abril último, o vocalista Tobias Sammet se debulhou em lágrimas ao participar de um show junto com o Shaman no ATL Hall, no Rio, ao ouvir o público evocar o nome Edguy em uníssono. Na véspera, para um Via Funchal abarrotado, em São Paulo, certamente não foi diferente. O disco, um duplo ao vivo, como nos bons tempos, foi gravado durante a turnê de “Mandrake”, o quinto e melhor álbum da carreira do grupo, turnê essa que passou pelo mesmo Via Funchal. Além da virtuose do grupo, o discaço mostra como o metal melódico, ao contrário do que dizem os preconceituosos e estereotipadores, pode sim, ser muitíssimo agradável.
Outro caso é o da coletânea “Gratest Hits”, do Mötley Crüe, lançada originalmente em 2000, mas que na época passou batida no Brasil, e só agora está disponível. Digo isso porque a banda está completamente fora da mídia, exceto pelo fato de o vocalista Vince Neil estar em turnê pelos Estados Unidos, com uma banda de apoio, tocando, na maior parte do repertório, clássicos do Mötley. Ao mesmo tempo, novas bandas de hard rock, ou com claras referências ao gênero, estão surgindo aos borbotões pelo mundo, e ai a referência a um clássico oitentista é fundamental para quem ainda não se ligou na banda. Afinal, já tem uma garotada que nasceu depois do auge de Mötley Crüe, Guns N’Roses, etc, que não pode perder o bonde da história. O álbum cobre os álbuns da melhor fase da banda, entre eles os clássicos “Shout At The Devil” e “Theatre Of Pain” (obrigatórios), além de duas músicas inéditas na época, em 2000.
Até a próxima, e long live rock’n'roll!!!
Tags desse texto: Edguy, indústria fonográfica, Mötley Crüe