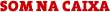Judas Priest
Nostradamus
(Sony-BMG)
 Não é muito comum uma banda clássica como o Judas Priest, com quase quarenta primaveras, partir para uma mudança sonora muito profunda. Daí o estranhamento causado por esse álbum duplo, de conteúdo temático e quase progressivo do grupo, justamente num momento em que vive um período dos mais promissores, iniciado com o retorno de Rob Halford, em 2003 – de lá pra cá este é o segundo álbum. O “quase progressivo” anotado ali é mais pelos momentos de, digamos, “descanso” que o disco sofre entre certas faixas, que o impede de engrenar como se espera, sobretudo num disco de heavy metal, e feito por um de seus maiores ícones.
Não é muito comum uma banda clássica como o Judas Priest, com quase quarenta primaveras, partir para uma mudança sonora muito profunda. Daí o estranhamento causado por esse álbum duplo, de conteúdo temático e quase progressivo do grupo, justamente num momento em que vive um período dos mais promissores, iniciado com o retorno de Rob Halford, em 2003 – de lá pra cá este é o segundo álbum. O “quase progressivo” anotado ali é mais pelos momentos de, digamos, “descanso” que o disco sofre entre certas faixas, que o impede de engrenar como se espera, sobretudo num disco de heavy metal, e feito por um de seus maiores ícones.
O fã de longa data irá lembrar que, nos aos 70, o Judas Priest nem era uma banda tão emblematicamente de heavy metal, e tinha lá, sim, alternâncias sonoras que poderiam fazer desse artifício, aqui, algo do tipo volta às raízes. Eram tempos de consolidação de um estilo que permitiam tais nuances; hoje, sendo o Judas uma lenda viva, soa pequeno pensar assim. Com a evolução da tecnologia, o que se espera são riffs cada vez mais pesados, solos cada vez mais consistentes, e uma estrutura musical na qual pouco há o que se inventar que não seja, simplesmente, boas músicas. Não há muito que mexer. Heavy metal, pois não?
Mas há, honra seja feita, boas músicas entre as 23 encontradas aqui. No início, as boas “Prophecy” e “Revelations” não fazem feio, mas são entremeadas por pequenas músicas/vinhetas que cortam o clima e deságuam na chata “War”, que passa quase todos os seus minutos sem dar realce à dupla K.K. Downing e Glenn Tipton. Quando aparecem, efeitos sintetizados roubam das guitarras aquilo que elas têm de mais íntimo, em se tratando de uma banda de heavy metal: o peso. É como se o sujeito batesse cabeça de pé, com o tronco curvado para frente, e, súbito, tivesse que sentar e esperar o disco reacender ouvindo uma espécie de mantra. Pois “Sands Of Time” é quase isso. Um solo de verdade só vem na oitava música, a bela, essa sim, “Pestilence & Plague”. Só não precisava Halford cantar trechos em italiano.
Assim o disco segue o caminho das incertezas se alternando em trechos diferentes que o impedem – repita-se – de progredir; há sempre a sensação de que algo vai acontecer e, enfim, o disco do Judas Priest vai ser um disco do bom e velho heavy metal tradicional. Só que, quando isso acontece, passa tão rápido que logo tudo volta à aridez conceitual que rouba do Judas o próprio Judas. E ainda, nas partes mais interessantes, como no duelo de solos em “Death”, o som não soa tão encorpado, pesado, como poderia. Parece que, de propósito, já que os produtores são a dupla de guitarristas, alguém mexeu na mixagem das guitarras. Pois, ainda assim, nas partes mais arrojadas, falta peso.
“Conquest”, cadenciada, embora flerte com o metal épico dos nossos tempos, é outra boa faixa perdida no conceito do álbum. Se salva por riffs, solos e até por uma mais adequada impostação de voz do Metal God, e mostra que Downing e Tipton podem ser criativos sem abandonar o “jeito Judas” de ser. É o que acontece também na ótima “Persecution”, uma típica do metal consagrado pelo grupo. As duas, juntas, formariam uma bela seqüência, mas têm, entre elas, incomodando, a insossa “Lost Love”, que, de novo, coloca tudo a perder. Ao menos “Persecution” encerra bem o primeiro CD.
Não que isso mude o panorama dali pra frente. O CD 2 se embola em si próprio e só diz ao que veio no final, na faixa-título, uma porrada arrasa-quarteirão redentora. Antes, até que outras músicas, olhando isoladamente, têm potencial, até mesmo para figurarem no set list de um show do Judas. É o caso da dramática “Alone”, que tem uma bela interpretação vocal. Mas, no geral, a audição da íntegra deste “Nostradamus” é um exercício positivamente penoso. Melhor: uma verdadeira chatice.
Tags desse texto: Judas Priest