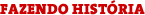Engenheiros do Hawaii
A maior banda média do Brasil
Publicado na edição número 66 da Revista Dynamite, de setembro de 2003.
“Sem soar o alarme… Sem fazer alarde”. Esse verso da música “Camuflagem”, que abre o novo disco dos Engenheiros do Hawaii, “Dançando No Campo Minado”, bem que poderia sintetizar sua trajetória. Em pleno e fabricado revival dos anos 80, quando quase todas as bandas se renderam a discos em formato acústico ou de covers, o Engenheiros (que desde de 1989 lança um álbum ao vivo a cada três de estúdio) mantém sua inabalável carreira, lançando sempre bons discos, fazendo shows por todo o país e atingindo níveis de vendas satisfatórios. É, sem dúvida, o sonho de qualquer banda que luta para sobreviver num mercado onde ou se é um sucesso fenomenal, ou, então, não é nada. O sonho de ser uma banda média, ou, como prefere o chefão Humberto Gessinger, uma banda de “segundo escalão”.
“Dançando No Campo Minado” é o segundo disco de estúdio com a mesma formação, que, além do controverso Gessinger (de volta às guitarras), inclui Paulinho Galvão (guitarra), Bernardo Fonseca (baixo) e Gláucio Ayala (bateria). Curtíssimo para a era CD, “Dançando No Campo Minado” é também o segundo álbum da “fase gerúndio”, e traz um peso quase inédito na carreira do grupo, com temática de engajamento e citações militares, presentes desde o (quem não se lembra) “Exército de Um Homem Só”.
Confira abaixo a entrevista que Humberto Gessinger concedeu com exclusividade à Dynamite, direto de seus domínios, nos pampas gaúchos, e veja como, já há algum tempo, o Engenheiros vem, como diria outro famoso caudilho, “comendo pelas beiradas”.
Muita gente avaliou o penúltimo disco, “Surfando Karmas & DNA”, como uma volta ao período do “A Revolta dos Dândis”/”Ouça o Que Eu Digo Não Ouça Ninguém”, como você vê isso?
Eu concordo. É um lance que não foi procurado, acabou soando com aquele frescor do início, talvez pela minha volta à guitarra. E eu acho que o “Dançando No Campo Minado” tem a mesma onda, é um amadurecimento.
O “Dançando No Campo Minado” parece mais pesado, talvez até em toda a carreira do Engenheiros. O que influenciou vocês para que ele saísse assim?
Não foi algo que tenhamos procurado. Ouvindo agora o que eu sinto é que no “Surfando…” as minhas guitarras estavam escondendo alguns efeitos e nesse eu acho que ficou mais cru, e talvez isso dê, na forma, um sensação de mais peso. Eu acho que no texto até nem tem tanta diferença, é mais nas sonoridades das guitarras. E acho que isso serve muito ao que estávamos cantando. Eu vejo esse disco como uma longa canção de 39 minutos. São canções curtas, mas eu ouço como uma grande e única canção. Ele começa com essa onda mais pesada e sombria, até desesperançada; em “Segunda-feira Blues” bate no fundo do poço, num lance meio ressaca; e aí, em “Dom Quixote”, começa a vir umas coisas mais de esperança que é “Outono em Porto Alegre”. Muitos fãs ficam cobrando, dizendo que “as músicas eram mais progressivas na época do ‘Papa é Pop’”, e eu acho que é mais ou menos a mesma estrutura.
Nas letras parece que há uma preocupação com o mundo globalizado, há palavras marcantes de guerra, como camuflagem, colisão, radar. O campo minado é a globalização, dentro dessa visão?
Eu acho que existe pouco espaço para a liberdade hoje em dia, tá tudo muito tomado. Vejo assim em geral, sem cair especificamente no lance político ou econômico. Vejo como é pouco o que se oferece para um adolescente, na indústria cultural, quer dizer, só besteirol piadinha, só uma violência fake. É um campo minado que parece que não tem muito onde pisar, para apoiar e dar o passo seguinte. Mas o engraçado é que eu falei do lance do nome do disco há um tempo, antes de gravar, e as pessoas prestavam maia atenção no “dançando” do que no “campo minado”, perguntavam se era uma música para dançar. Depois que eclodiu a guerra no Iraque o mesmo nome começou a significar outra coisa, começaram a pescar mais esse lado bélico. Não mudou o nome, mas a leitura mudou, todo mundo ficou mais sensível a esses tempos, que são bem recorrentes na carreira do Engenheiros.
Depois de “surfando” e “dançando”, você já tem um gerúndio para começar o próximo álbum?
Eu gostaria muito de um gerúndio no próximo disco, mas ainda não tenho um. Eu queria fazer mais um disco com o mesmo esquema, a mesma galera, estúdio.
Essa formação parece estar funcionando. Ela é a melhor depois da fase de sucesso do Engenheiros?
São momentos diferentes, eu tô super feliz, acho que nunca tive tão feliz. Agora não sei se isso é uma coisa boa ou não, essa sensação de felicidade, tranqüilidade. Na estrada eu sinto um lance de coração batendo, acho que nasceu um novo Engenheiros, não sei bem em que ponto da carreira, é uma coisa que eu vejo nos shows, na maneira como a molecada ouve Engenheiros. Acho que isso reflete esse frescor, nós entramos no estúdio e começamos a tocar com uma liberdade bem grande. Às vezes eu me coloco no lugar de quem está entrando na banda, não é uma banda muito fácil de se perceber para quem tá de fora, que tipo de energia que rola, em relação ao público. Eu gosto desse processo, os caras vão tomando conta, vão tomando uns sustos na estrada e aí eu vou começando a conhecê-los melhor e nós começamos a trabalhar com mais facilidade.
Funciona como banda mesmo, porque dá a impressão que é você e mais três, né?
Cada vez vai ser mais difícil tentar falar de igual para igual, porque as bagagens são completamente diferentes. Acho que o grande erro que talvez eu tenha cometido em algumas formações é tentar criar esse clima de que somos uma banda, artificialmente, que é o pior que tu pode fazer. O lance é deixar, a estrada vai transformando numa banda.
Você parece ser muito autocrítico nas coisa que você faz, tá sempre reavaliando, parando para pensar, é isso mesmo?
Tem modificações nesse meio, da música pop, do rock’n’roll, e acho legal ficarmos atentos, porque se tirar o risco e a espontaneidade, é uma música muito pobre. Se mantiver o risco, é uma coisa muito rica. Acho legal ficar atento, manter essa autocrítica, para não cair na inércia, aquela coisa de acho bacana ter uma banda de rock, que legal, tenho sucesso. Temos que começar sempre do zero.
O Engenheiros quase sempre lança um disco a cada ano, mas, por outro lado, os discos têm saído curtos. Você não pensa em esperar mais e lançar discos maiores, já que num CD é possível chegar em torno dos 70 minutos?
Eu tenho pensado nisso, mas no sentido oposto. Quando eu estava ouvindo o disco, pensei: “Como é que nós gravávamos discos maiores que esse?”. Começou a me parecer mais orgânico esse tempo, daí pra baixo. No vinil tinha uma limitação física, que era de 22 minutos por lado, mas por outro lado tinha a coisa de ter duas entradas, lado A e lado B. Com o CD não é bem assim, tem essa facilidade do skip, de as pessoas irem direto na faixa que vão ouvir, as pessoas se apropriam da música de outra forma. Acho que as possibilidades físicas que o CD te dá não vão ser determinantes para saber qual é o tamanho de um álbum para os anos 2000. Pode ser uma esperar mais e lançar um tijolão, ou pode ser o contrário, lançar um disco por semana, de oito minutos. Vamos caminhar para o lance de baixar a música on line. E aí, o que será do álbum? Vai ser todo mundo fazedor de single, como era antes dos anos 50? Para bandas da minha geração é inevitável ter esse cordão umbilical com a história do vinil. Vamos sempre ter, inconscientemente, esse timing.
Nos álbuns mais antigos você usava muitas aliterações nas letras. Até hoje, quando se discute Engenheiros isso é recorrente, mas hoje você não usa tanto. Você acha que elas afinal, ajudam ou não?
Eu sempre fiquei de fora dessa discussão, porquê não consigo ver tanta diferença. Por outro lado muita gente me fala isso. O problema é que quando começam a falar alguma coisa sobre um artista, um jogador de futebol, aquilo vira um clichê e vai se auto-alimentando. Então o Romário para sempre será talentoso e preguiçoso, o Jimi Hendrix para sempre será o guitar hero. Eu sempre tive um fascínio pelo lance da forma, e não acho que eu tenha parado de fazer, talvez elas não tenham ficado tão famosas, mas eu gosto pra caramba desse lance da forma.
Fala-se muito na geração dos anos 80, na volta dessa geração, mas o Engenheiros nunca parou. De que geração é o Engenheiros de hoje?
Hoje em dia tu olha para trás e tudo é uma grande geração, mas na época havia diferenças que hoje parecem pequenas, mas eram fundamentais. Eu ia a show dos Paralamas sem nem pensar em estar numa banda. Na época éramos um pouco posteriores, chegamos e já tinha o declínio da Blitz. Acho a nossa história mais linear, nunca tivemos uma ruptura brusca na minha maneira de escrever, apesar das várias formações. Quando falam assim, que voltou, eu levo um susto porque na verdade eu estou fazendo o trabalho nesse tempo inteiro e não me dou conta do que rola no mundo exterior. Eu vejo a coisa do Engenheiros menos episódica, é uma história mais contínua, mais tranqüila.
É uma banda de “come quietos” ou que “come pelas beiradas”?
Boa, eu acho que nós somos uma banda assumidamente média. Um dos momentos mais desconfortáveis na história da banda para mim foi quando a ela foi guindada para uma posição de estrela, na época do “Papa é Pop”, que não fazia o menor sentido. Foi muito desagradável.
Você lembra quanto vendeu?
Umas 350 mil cópias na época, hoje deve estar em 450 mil. O que não é uma grande vendagem, comparando com as bandas que vieram depois. Era um momento em que ninguém tava vendendo nada, era como se todo mundo tivesse saído da festa e sobramos nós.
Foi quando entrou o Collor e confiscou as contas bancárias, né?
É, eu me lembro que estava fazendo um show durante esse confisco, e a bilheteria era toda de cheques sem fundo. Mas eu me sinto muito mais à vontade hoje em dia do que na época do estouro. Eu vejo muito fã achando que foi uma época excepcional da banda, a segunda formação, “O Papa é Pop”, mas acho que a própria mídia tava com mais interesse nesse tipo de som, do Engenheiros, do pop rock. Em geral as bandas que vêm dos anos 80 fizeram seus melhores trabalhos naquela época, sabe como é o Brasil, cada ano tem sua onda, era a hora do pop rock. Mas acho que tem coisas interessantes antes e depois, o mundo não começou ali, não.
Mas você acha que realmente “O Papa é Pop” é o melhor disco da carreira de vocês?
Não, eu acho que o “Revolta…” é bem melhor que o “Papa…”. Acho o “Tchau Radar” um disco bacana, mas por ser muito maduro não fez tanto barulho.
Durante os anos 80 e em boa parte dos 90 você reclamava que era injustiçado pela imprensa. Como você vê isso, olhando de longe? Eles continuam pegando no seu pé?
Pegando muito, cada vez mais. É proporcional ao espaço que tu tem. Então é um bom sinal que ele estejam pegando no pé. Mas acho que, sem querer ser arrogante, são mundos que não se tocam, o do músico e o do crítico. Só aparentemente estamos falando a mesma coisa, mas não tem possibilidades de diálogo. Cada um na sua, eles estão certos falando o que eles falam, e eu estou certo dentro do que estou fazendo. A minha hora de falar é quando eu faço as minhas músicas e a deles é quando escrevem.
Você acha que tinha uma panelinha de críticos que pegavam no seu pé ou era uma coisa generalizada?
Começou como uma panelinha, mas depois caiu naquela inércia que eu te falei, e aí tem gente que começa a repetir sem nem saber o que tá falando. Antigamente tinha duas ou três pessoas que paravam para ouvir um disco, o resto todo mundo ia atrás. Hoje te canais alternativos, revistas menores, internet, não é tão monolítico assim.
Você já parou para prestar atenção nas bandas que estão sendo chamadas de rock gaúcho?
Eu ouço quando toca no rádio. É quase o contrário de quando eu comecei, agora rola quase que um preconceito ao contrário. Na verdade sempre teve bandas legais aqui, mas não tinha vazão. As rádios aqui esperavam a banda acontecer no resto do país para depois tocar, mas agora estão apostando, porque tem também um circuito em que os caras podem viajar.
Se fosse assim na sua época o Engenheiros ficaria por aí mesmo?
O Engenheiros nunca foi uma banda para ser “a banda”, um lance hegemônico. Tu falou o lance das beiradas, é interessante, é mais ou menos isso. Então, tem meia dúzia de malucos que gostam em Porto Alegre, meia dúzia em Minas, não é para ser uma banda de todos os porto-alegrenses ou todos os brasileiros. Hoje em dia, em geral, é mais fácil fazer sucesso regionalmente e mais difícil cruzar as fronteiras. Não é só Porto alegre, vários lugares que tu vai, tem uma cena local legal.
Acaba que o eixo Rio-São Paulo é que fica sem cena. Vira aquele negócio de estourar ou não…
É o que eu falo para o pessoal que toca comigo que é do Rio: vocês moram embaixo da antena, e têm mais dificuldades, porque fica só um espaço mainstream.
Você já recebeu sugestão de gravadora para fazer discos acústico, de covers ou ao vivo?
Acústico sempre falam, projetos de disco em espanhol, mas nunca me senti muito à vontade e me parece que, até agora, a gravadora olha e fala assim: “Pô, deixa os caras fazerem que eles sabem, o que eles fazem melhor”. Não rolou pressão até hoje na minha carreira. Até já vi gente falando que nos fizeram gravar essa ou aquela música, mas é tudo mentira. Com “Era Um Garoto…” era inacreditável, todo mundo dizia: “Viu, fui eu que fiz tu gravar essa música”.
Assim como o Rush, que faz um disco ao vivo a cada quatro de estúdio, o Engenheiros faz um a cada três. Isso é uma regra que você pretende seguir?
Uma coincidência, e é a única coisa que temos a ver com o Rush. O importante é o disco ao vivo não ser um episódio na carreira da banda, senão tu entra naquela nóia de fazer um disco ao vivo perfeito, e nunca vai ser. O barato são as imperfeições, então é bom que tenha vários discos ao vivo. Essa coisa de ser um a cada três é para chamar a atenção para isso. No Engenheiros o disco ao vivo nunca foi uma liquidação de nossos hits.
O próximo vai ser de estúdio?
O próximo vai ser de estúdio, sim, quero fazer mais um gerúndio, igual ao “Surfando…” e ao “Dançando…”
Pra fechar: e a viagem do Humberto Gessinger Trio?
Aquele disco era bacana, hoje eu vejo como um disco do Engenheiros. Foi ingenuidade achar que tinha espaço para essa sutileza, sou eu mas não sou eu. No início não era para ser um lance fonográfico, o erro foi ter gravado o disco, era para tocar em outras situações. A formação era de transição, eu e o Carlos estávamos pensando o que fazer. Seria legal aproveitar as músicas do disco, tem músicas bacanas para trazer para os Engenheiros.
Tags desse texto: Dynamite, Engenheiros do Hawaii