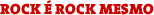Versões de músicas desconhecidas às vezes soam melhor que as originais
Vale à pena o artista regravar seus próprios álbuns só para dar um up grade tecnológico? Ou melhor atualizar o som com novas composições?
Meus amigos, não há mal que dure pra sempre. Nem bem. Tudo passa, tudo sempre passará. E depois da tempestade vem a bonança. Digo isso enquanto vejo, pela janela, a demonstração prática de como a previsão do tempo anda precisa. Mais uma frente fria chegando. Falo do tempo e já me arrependo, uma vez que, quando ele é assunto, é porque não se tem muito o que dizer. E assunto aqui é o que não falta. É tanta coisa no menu que eu não sei o que comer.
Sei, sim. Comecei a coluna da semana passa falando da evolução tecnológica dentro da produção musical, mas depois a coisa desandou para outras paradas. Não sou um tecnocrata da música nem tenho ouvido tão apurado assim a ponto de me aprofundar no assunto, mas é notável que se produz, hoje, um som muito mais consistente, encorpado – para quem acha que a música é um fluido – do que há, digamos, uns 20 anos. Como de hábito, não pensava em falar desse assunto, mas o tema é que veio a mim. Vejam vocês.
Tudo começou com Eric Clapton. Aquele que já foi chamado de “o Deus da guitarra”. Sempre observei que ele é mestre em pegar músicas de artistas clássicos do blues (principalmente) e do rock, e fazer versões “atualizadas” muito mais potentes que as originais. Uma simples canção de Robert Johnson vira um rockão cheio de riffs nas mãos de Clapton. Foi o que aconteceu com “Crossroads”, por exemplo. Clapton também pegou “I Shot The Sheriff” de Bob Marley e apresentou o reggae para o mundo da música. Fez de “Cocaine”, de JJ Cale, música rejeitada nas rádios por causa do título, um dos maiores riffs de guitarra em todos os tempos, e um grande sucesso mundial. E ele ainda diz que prefere a música na versão original de Cale. Vi isso no DVD “Crossroads Guitar Festival”, no qual Eric Clapton toca com os amigos. Nem precisa comprar, que outro dia tava sendo exibido no Multishow.
Falei de Clapton, mas poderia citar n artistas de várias fases do rock. Mas vejamos como a coisa continuou. Ouvindo um disco do Anthrax, ícone do thrash da Bay Area californiana dos anos 80, relançado agora, percebi que a produção não era tão potente como deveria ser. Ou melhor, como achava que fosse na época. “Among The Living”, com todos os seus clássicos, me pareceu, acreditem, chocho. Mais ou menos na mesma época, um pouco antes na verdade, tinha ouvido os discos mais recentes do Exodus (“Shovel Headed Kill Machine”) e do Destruction (“Inventor of Evil”), duas pérolas do thrash metal oitentista devidamente atualizado. Produções “cheias” e com o punch sem o qual o gênero não sobreviveria. Perto deles, “Among The Living” me pareceu um coletivo de canções de ninar – com o perdão da comparação entre épocas.
Eis que, mais tarde, para completar a seara thrash, tive contato com o disco “First Strike Still Deadly”, do Testament, que é de 2001, mas só agora pude ouvir. Os caras pegaram os sucessos deles dos dois primeiros álbuns e regravam tudo nesse disco. Ou seja, pegaram músicas compostas e gravadas entre 87 e 88 e as atualizaram para 2001. Só de saber que o disco era assim já achei interessante, batia a intenção deles com aquilo que vinha pensando e expliquei ali em cima. Mas, ao ouvir o disco, a coisa não caiu bem, não. Não sei se é mal produzido, se as músicas do Testament, que honra seja feita sempre foi do segundo time do thrash mundial, não são lá essa coisa toda, ou se algo se perdeu, em nível de espontaneidade. Não sei. Só sei que não fiou bom. E, também, logo me passou pela cabeça que se essa idéia for parar nas mãos dos tais diretores artísticos de gravadora, pode começar aí outra fase de repetições como a estrelada por acústicos, tributos, ao vivo e afins. Aí é que mora o perigo.
Mas, porém, no entanto, contudo, todavia, essa coisa de “dar” produção atual a coisas do passado continua martelando a minha cabeça. Talvez os métodos de Eric Clapton sejam os melhores, afinal ele acaba presenteando o ouvinte com músicas em geral desconhecidas, e ainda fortalece a conta bancária dos autores. JJ Cale deve pagar as contas até hoje com a grana de “Cocaine”. O que Exodus e Destruction fazem é evidentemente melhor, pois revigora um subgênero do metal que sobrevive às custas da repetição. Mais que ouvir o “Among The Living”, cheio de riffs e palhetadas, com um up grade tecnológico seria bem interessante, isso seria.
Até a próxima, e long live rock’n’roll!!!
Tags desse texto: Anthrax, Destruction, Eric Clapton, Exodus, Testament