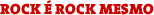A sincronicidade do rock’n’roll
No mundo do rock nada acontece por acaso; tudo está intimamente conectado. Ao menos é o que diz a teoria de Jung, pinçada pelo Police num dos melhores álbuns em todos os tempos e adaptada por nosso colunista.
Meus amigos, o que é a matemática. O que são as coincidências. E o que é a sincronicidade. Vejam vocês que, num esforço hercúleo, eu vinha resgatando todas as mais de cem Rock é Rock Mesmo do site anterior e lançando nesta nova morada. Colocava uma por uma com o cuidado de fazer isso mantendo corretas as datas originais (considerando duas breves interrupções), até que, justamente no último domingão, descobri que esta coluna completava exatamente três anos de vida. No dia 5 de fevereiro de 2003 ia ao ar primeira das 147 Rock é Rock Mesmo. Podem me dar os parabéns.
Isso é uma coisa. A outra é que, ao colocar todas as colunas aqui no Rock em Geral, acabei dando uma olhadinha em todas elas, por cima, sem obviamente ler tudo, senão estaria lançando textos até agora. E vi, entre outras coisas, como há, espalhadas por esses três anos, promessas de colunas específicas sobre determinados assuntos. É um tal de “mas isso é assunto para uma coluna inteira” a torto e a direito. Sincronicidade, por exemplo. O tal fenômeno (tese, postulação viagem ou termo que o valha) é um tema dos mais prometidos. Por isso e por ter ao acaso (ou seria a tal sincronicidade?) descoberto uma data de aniversário, não dá mais para escapar. Vamos a mais uma teoria de botequim.
O Police nasceu no final da década de 70 como uma banda de “falso punk”. Fazia músicas simples e letras idem, misturava rock com reggae – há quem chamasse a música deles de “reggae banco” e se transformou rapidamente num ícone da new wave mais pop e comercial. Mas fazia rock dos bons, subvertendo a ordem musical vigente ao colocar o baixo à frente de uma guitarra climática (Andy Summers era mais velho e vinha de trabalhos experimentais) e possuía um espetacular baterista, criador de um estilo simples, inigualável e que virou padrão para a época e é até hoje imitado. O Dr. Rodivaldo mal pode ler isso que tem uma cólera estomacal severa.
Eis que, Sting, o compositor da banda, resolveu ler mais e mais até chegar no livro Sincronicidade, do alemão Carl Gustav Jung. Antes, ele já havia feito grande parte do álbum “Ghost In The Machine”, de 1981, baseado nas teorias de Arthur Koestler. “Synchronicity”, de 1983, foi o disco do Police mais vendido, o melhor da banda e um dos melhores de todos os tempos. Fez tanto sucesso que deixou Sting à vontade para terminar os trabalhos em alta e partir para uma carreira solo, deixando um histórico de desentendimentos que foram diversas vezes às vias de fato, sobretudo com Stewart Copeland, que era o dono da banda, mas era… Baterista.
Mas falava do disco, e era impossível olhar para o título dele (o mesmo de duas das músicas) e não coçar a cabeça. “Que diabos é ‘Synchronicity?”, perguntaria a voz dublada de um enlatado americano qualquer. Sting desandava a explicar o conceito de seu disco, composto em Montserrat, nas Bahamas, mas nem sempre o artifício surtia efeito. Não só pelas intrigantes músicas do disco, mas porque não estávamos ainda na era das comunicações, a informação não circulava tanto e com tanta voracidade. Mas a Fluminense não parava de tocar o disco quase na íntegra, durante a programação, as rádios de sucesso executavam a genial “Every Breath You Take” e o Paralamas (sobretudo João Barone) copiavam escancaradamente o Police; “Mensagem de Amor” tem início idêntico à “Synchronicity II”. Só restava, então, depois de ouvir uma fitinha surrada durante anos e comprar o vinil com um sorriso de orelha a orelha, partir para entender as letras e ler o tal livrinho.
Grosso modo, a teoria da sincronicidade não acredita em coincidências e determina que nada acontece por acaso. Tudo, de certa forma, é fruto de imagens que alcançam a consciência de forma direta ou indireta, através de sonho, associação ou premonição, e que uma situação prática e objetiva tem o conteúdo coincidente com essas imagens. O que descartaria, por si só, a hipótese da coincidência, no sentido das coisas acontecerem por acaso. Na sincronicidade não há acaso. Tudo, o carro que passa na rua antes de você atravessar, uma ligação telefônica, uma estrela cadente, efeitos sem causa, lógica inflexível, absolutamente tudo está inconsciente e intimamente conectado. O dia a dia monótono e tristemente repetitivo de uma família de um subúrbio qualquer, o trabalho de uma fábrica, tudo isso está interligado pelo fenômeno da sincronicidade. É evidente que disco não é conceitual, e apenas “Synchronicity I” e “Synchronicity II” carregam a tese, mas outras músicas, como a já citada “Every Breath You Take”, “King Of Pain” e “Murder By Numbers” têm sua citação a Jung aqui e acolá.
Isso foi o que Sting leu pra fazer aquele discaço. Eu, de outro lado, e já com a cabeça voltada para o mundo do rock, li tudo que ele leu e vi aplicação no rock em si. Primeiro que já não achei por acaso o Police fazer esse disco, ele me pegar tão de jeito e eu próprio me interessar por uma teoria inóspita, ainda mais numa época em que mal tinha parado de usar calças curtas e pouco lia além de revistas de rock, futebol e gibis em geral. Descobri que dentro do rock as coisas não acontecem por acaso. Já disse (e tive eco) que há coisas que só o heavy metal pode nos proporcionar. Mas recuo e refaço: há coisas que só o rock pode nos proporcionar. E a sincronicidade sempre nos leva ao encontro daquilo que queremos dentro do rock.
Explico. Se você curte uma banda e tem dificuldade de saber mais sobre ela, pode ficar tranqüilo que ela vem até você. Com ou sem o seu esforço, logo vai parecer alguém, uma rádio, um programa de TV que vai te contar timtimtim por timtimtim. Logo você vai ter um ou outro disco na mão e vai estar vendo esse grupo tocando ao vivo, numa formidável seqüência de eventos não casuais. É a sincronicidade do rock’n’roll. O exemplo pode hoje parecer anacrônico, numa época de tudo despejado na Internet. Mas nem sempre foi assim. E nem hoje é assim, se considerarmos que quem tem acesso à Internet é ainda minoria. E que nem tudo está disponível na web. Sim, até na grande rede – quem diria - há o underground, o incógnito, o obscuro.
Eu poderia citar aqui mil exemplos, mas não vejo necessidade; eles estão espalhados por esses três anos de Rock é Rock Mesmo e vão continuar aparecendo. Ou, por outra, vou citar dois, sim. Should I stay or should I go? Marillion e Big Country. Nos idos dos anos 80, eram duas bandas subestimadas em termos de mídia no Brasil. Tinham os discos lançados aqui, tocavam na Flu-FM e era só. O resto era preciso ir atrás. Ou esperar os efeitos da sincronicidade do rock’n’roll. No caso do Marillion, caiu na minha mão, do nada, uma fitinha Basf cor de abóbora com o primeiro disco inteirinho e parte do segundo, gravado pelo amigo de uma amiga que, do nada, disse “aí, guarda essa fita contigo até o final da aula, depois você me dá. Se quiser, pode ouvir”. Foi pra casa e demorou a voltar.
Big Country. Bem, esse eu mudei de idéia e não vou contar agora, não, mas numa coluna própria – vamos nós prometendo outra vez. Mesmo porque já estou na terceira página e dizem os entendidos que isso é texto demais para quem lê na tela de um computador. Mas a sincronicidade tá no ar, e foi com ela que eu descobri o aniversário de Rock é Rock Mesmo. Podem me dar os parabéns.
Até a próxima, e long live rock’n’roll!!!
Tags desse texto: The Police