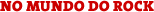Talhado para tocar ao vivo, Walverdes faz do esporro a opção estética
Já veterano no mercado independente, trio gaúcho atinge a maturidade do barulho com “Playback”, o último disco. Fotos: Raul Krebs e Marcos Bragatto (ao vivo).
No filme “Comando Para Matar”, um ex-ditador da América Latina seqüestra a filha de um coronel americano para forçá-lo a ajudar em seus planos. Mas o coronel decide não atender as exigências do ditador, e se prepara para resgatar a menina numa ilha chamada República de Walverde. O protagonista deste longa de 1985 é hoje o governador da Califórnia, e Walverdes uma das bandas mais queridas do underground nacional.
Foi em 93 que três amigos, depois de ouvir músicas juntos, resolveram eles próprios fazer uma banda que trouxesse para o Brasil toda a carga do grunge que estourava no mercado internacional. Se Seattle era a capital do mundo, por que não Porto Alegre – devem ter pensado. Mas já nessa época eles viam que não era possível uma banda como o Mudhoney sem um The Who por trás. Antes mesmo de o Walverdes gravar o primeiro disco, músicas de uma demo já rolavam nas rádios rock do sul. Com formação instável, gravaram o primeiro disco que saiu por um selo modesto e não conseguiu fazer a banda rodar.
Em 1999 a coisa melhora, e o EP “90 Graus”, lançado pela Monstro, então uma pequena gravadora de Goiânia, coloca o Walverdes com força total no meio independente. O som ainda trazia muito do grunge de origem, mas era só um EP com menos de 20 minutos, que serviu para que a banda caísse na estrada tocando em vários dos festivais independentes. “Anticontrole”, de 2001, não só reafirma a intensidade sonora da banda, como traz uma sintonia com um certo retorno do garage rock ao cenário da música pop mundial. Aí é que a banda passou a fazer shows a valer, e, cada vez mais técnico e barulhento, o Walverdes passou a acenar para a crescente onda stoner rock. Chegaram até a fazer uma turnê brasileira com o Nebula, grupo americano que é referência no gênero. Tudo isso desaguou no recém lançado “Playback”, que marca a estréia do Walverdes no selo Mondo 77.
Fomos saber do vocalista e guitarrista Mini quais as pretensões da banda no mercado nacional, como eles desenvolveram um jeito próprio de tocar e compor a partir de riffs de guitarra, e outras coisas envolvendo a República de Walverde. Confira:
Rock em Geral: Playback foi mesmo gravado num take só? Por que vocês preferem fazer dessa maneira?
Mini: Nem todas as músicas foram no primeiro take, mas todas tiveram as bases (guitarra, baixo e bateria) gravadas com todos tocando junto. Depois foram adicionados solos e alguns detalhes de guitarras a mais. Preferimos dessa maneira porque é mais rápido, mais prático e mais barato. As músicas têm uma energia diferente, mas isso não quer dizer que de outro jeito seja ruim. O “Anticontrole” foi todo gravado aos pedaços e tem uma energia legal também.
RG: Por que vocês escolheram esse nome para um disco gravado essencialmente ao vivo?
Mini: É o nome de uma música do disco. Mas também acaba funcionando como ironia, porque “Playback” é a última coisa que faríamos. Para nós só faz sentido tocar ao vivo.
RG: Quanto tempo mais ou menos vocês levaram para gravar esse disco, desde as primeiras gravações até a produção final?
Mini: Quase dois anos, porque foram três sessões diferentes separadas por quase um ano. Uma das sessões, gravada de forma caseira em fita magnética, foi toda jogada fora por falta de qualidade, e depois, com o apoio da gravadora, regravada. Aí veio a mixagem, a masterização e a prensagem, mas essas que geralmente são “embaçadas” foram bem rápidas.
RG: Como rolou a o trabalho com a gravadora Mondo 77, e por que vocês deixaram a Monstro?
Mini: Nosso contrato com a Monstro era disco a disco. Quando estávamos “embaçados” no meio do processo de gravação do “Playback”, a Mondo apareceu com uma proposta interessante. Conversamos com a Monstro e resolvemos trocar por vários motivos, mas não houve um rompimento pessoal. O Fabrício Nobre, em especial, é um grande parceiro nosso. Quanto à Mondo, estamos muito felizes de estar com eles, pois recebemos um excelente apoio na produção e agora também na divulgação do disco. Esse é o grande diferencial da Mondo.
RG: Esse é o disco do Walverdes em que, pela primeira vez, a gravação permitiu a audição perfeita dos vocais. Vocês tiveram esse cuidado pensando nas deficiências de produção dos discos anteriores?
Mini: Sim, depois de 12 anos chegamos à conclusão que vocal na frente e definido não é coisa de porco capitalista. Além do mais, nós costumamos dar atenção às letras, então é bom que elas sejam ouvidas.
RG: Quais seriam os altos e baixos citados na música, no caso do Walverdes?
Mini: Os altos e baixos normais da vida e do dia-a-dia. Qualquer coisinha pequena ou grande que deixa a gente feliz ou triste, nunca estabilizando em uma felicidade constante ou numa tristeza constante. Ainda bem!
RG: Como vocês planejam a letras das músicas? Há uma busca, em geral, por um significado e por uma estética diferenciados?
Mini: Como a estrutura das nossas músicas é meio esquisita, a maior parte não tem “bridge” ou refrão, naturalmente sai tudo meio não-óbvio e isso inclui as letras. Esses tempos me caiu a ficha que o Marcos faz muitos riffs de bateria, como se estivesse tocando guitarra. E agora me dei conta que muitas das nossas letras não têm versos, têm riffs.
RG: Isso quer dizer que vocês simplesmente encaixam palavras e versos em riffs?
Mini: É mais ou menos assim que funciona, mas obviamente tem uma coerência. Não são versos aleatórios, sempre tem uma história por trás, mas ela fica subentendida muitas vezes.
RG: O reggae que aparece no final do disco é uma brincadeira ou podemos considerar mais essa vertente na música do Walverdes no futuro?
Mini: É uma brincadeira que eu adoraria que virasse mais séria. Mas aí depende de aprendermos a tocar reggae direito. Ou não!
RG: É tão difícil tocar reggae assim? Me parecia o contrário… Então depende de você convencer os outros dois integrantes para o Walverdes virar uma banda de reggae?
Mini: Tocar reggae direito é muito difícil. Mas por enquanto não é nosso objetivo tocar reggae direito. Fazemos o nosso reggae, o reggae típico da República de Walverde. Quanto ao Marcos e o Patrick, não preciso convencer, eles curtem reggae também. Nós gravamos há uns dois ou três anos uma jam session que virou um CD chamado “Demasiada Seqüela”. Desse CD saiu a faixa que fecha o disco.
RG: É verdade que vocês queimam amplificadores rotineiramente em shows e ensaios?
Mini: Temos um certo azar em alguns shows… Nos ensaios nunca rolou, que eu me lembre.
RG: A música produzida pelo Walverdes tem mudado bastante desde que a banda se formou nos anos 90. Isso acontece porque as referências de cada um vão mudando, ou é só um processo natural em uma banda que já existe há tanto tempo?
Mini: Acho que as duas coisas. Quando você é mais novo, se concentra mais em um tipo de música, mas com o tempo vai abrindo a cabeça e ouvindo coisas diferentes. No nosso caso, se formou um eixo muito claro no nosso som e as novas influências foram sendo montadas em torno desse eixo. Elas não mudam o jeito geral da música, mas ela vai ficando muito mais interessante. Se você pegar o “Playback” e uma de nossas primeiras demos, vai ver que no fundo o som não mudou muito. Mas tem um amadurecimento que certamente tem a ver com a audição de outros tipos de som.
RG: Explica melhor como esse eixo se formou…
Mini: Acho que nossas principais influências logo no início eram Nirvana, Mudhoney e The Who. Então você pega o lado pesado e melódico do Nirvana, o lado fuzztone-garage-sixties do Mudhoney e o lado esporrento do Who. Éramos assim em 93/94. Se você pega o “Playback”, o esqueleto é o mesmo, mas com muito mais peso porque ao longo dos anos aprendemos a comprimir os riffs cada vez mais, deixando tudo mais coeso, conciso e pesado. Ao longo do tempo fomos colocando tudo que ouvia, mas os sons em comum orbitam em torno de coisas como Supersuckers, Rocket From The Crypt, Supergrass, Black Sabbath, essas coisas. Aí cada um traz suas influências. Durante um bom tempo eu ouvi maciçamente música eletrônica… Tive uma época ouvindo bastante reggae, funk, mpb e tudo isso foi para o som de alguma maneira.
RG: É correto afirmar que, de uma banda identificada com o grunge, o Walverdes se converteu ao stoner rock?
Mini: Não, definitivamente não somos stoner no sentido literal da palavra. O correto seria dizer que adoramos Queens (Of The Stone Age), Nebula, essas coisas. Mas fora o som, não temos nada a ver com a cena stoner. Não somos do deserto, nem temos músicas sobre drogas, carrões e garotas, não temos camisetas ou capas de CDs com chamas, essas coisas. Eu te diria que parte do som que hoje chamam de stoner nós absorvemos muito do “Bleach”, do Nirvana, e do “Houdini”, do Melvins.
RG: No início o som de vocês era próximo do grunge, e agora se identifica mais com o metal. Como transitar por gêneros que não raro são considerados opostos e até rivais?
Mini: Na verdade não vejo rivalidade nenhuma, porque a influência metal que nós temos vem do Black Sabbath e o grunge veio do Black Sabbath.
RG: É o que a crônica heavy metal costuma dizer. Você acredita realmente que o grunge veio do Black Sabbath?
Mini: Acho que sim. Se você pegar a árvore genealógica pelo lado do Melvins, tem muito a ver. E o Soundgarden? Sem Black Sabbath haveria Soundgarden? Agora, se você pegar pelo lado do Green River, talvez o hard rock dos anos 70 tenha mais a ver. Mas eu acho que o grunge é justamente o caldeirão de todos esses sons meio vizinhos: o pré-metal do Black Sabbath, o hard rock dos anos 70 e aquele garage sound dos anos 60 tipo Sonics. Também cansei de ver gente de Seattle comentando em entrevistas a fase em que o Black Flag começou a tocar mais devagar e pesado.
RG: Vocês consideram que já atingiram uma espécie de teto no underground, e que agora precisariam crescer mais fora dele?
Mini: Eu acho que o que acontece é que esse teto não é mais tão definido, não vejo uma linha de limite. Acho que há um espaço intermediário, que bandas como o Autoramas estão usando muito bem, no qual podemos crescer.
RG: Então vocês se consideram uma banda média, certo? Como crescer nessa faixa de mercado?
Mini: Eu realmente não tenho uma idéia definida de onde nós estamos. Há bandas maiores e menores, mas o que define ser maior ou menor? O que eu tenho certeza é que vamos tentar fazer mais shows. Nossa melhor propaganda é o show. E aproveitar a estrutura da Mondo para aparecer mais.
RG: Todos dizem que há uma cena rock forte no Rio Grande do Sul, onde bandas que fazem sons diferentes como Comunidade Nin Jitsu e Reação em Cadeia, por exemplo, são chamadas de “grandes”, tocam para grandes platéias e vendem muitos discos. Onde o Walverdes se encaixa nesse contexto?
Mini: Aqui nós somos U.M.R.P.A.P.M: Underground Mas Respeitados Por Algumas Pessoas do Mainstream. O que não ajuda muita coisa.
RG: Vocês costumam fazer muitos shows. Isso se deve a uma certa persistência, ou depois desses anos todos, é comum o convite para vocês tocarem por todo o Brasil?
Mini: Desde o “Anticontrole” nós começamos a ser mais convidados, mas o grande mérito de qualquer banda que toque bastante é da própria banda de cavar espaço. Nós vamos muito atrás, damos um jeito, ajustamos daqui e dali, e vamos tocar. Sem prejuízo, diga-se de passagem, porque há algum tempo também tomamos a decisão de parar de pagar para tocar. E ironicamente isso aumentou os convites, não diminuiu.
RG: Vocês têm o hábito de participar de muitas coletâneas, certo? Como isso ajuda uma banda já tão estabelecida como o Walverdes?
Mini: Na verdade recebemos o triplo de convites, mas selecionamos bastante porque nem sempre é um bom negócio. Algumas são legais porque o pessoal que está promovendo a coletânea se puxa, mas tem muitas que vão se perder por aí em banquinhas independente. E tem muito do momento da banda também. Tem vezes que nos convidam, mas não estamos a fim de gravar algo novo, nem fazer toda a função ou então colocar alguma grana nisso.
RG: Em 2004 o Walverdes iria abrir o show do Offspring em Porto Alegre, mas em cima da hora foi substituído pelo Tequila Baby. Circulou na Internet que o próprio Offspring teria solicitado a troca. Afinal, depois desse tempo todo, vocês sabem o que realmente aconteceu?
Mini: Até onde sabemos, foi negligência e falta de respeito da Opus Promoções, que fazia o show em Porto Alegre. Mas como estamos com uma ação contra a Opus Promoções na justiça, prefiro não falar muita coisa mais.
RG: Pode dizer o que vocês estão pleiteando?
Mini: Por enquanto não… Quando sair a decisão a gente avisa todo mundo!
RG: Vocês fizeram uma excursão pelo Brasil com o Nebula. Que experiências vocês trocaram com os músicos estrangeiros? Não rolou de agendar uma turnê internacional com eles?
Mini: A maior experiência foi ver uma banda com aquele poder de fogo ao vivo passar som e tocar cinco vezes em uma semana. Foi um puta aprendizado.
RG: Vocês vivem só de rock ou têm trabalhos do tipo “convencional”?
Mini: Ninguém vive só da banda. Eu sou redator publicitário numa agência. O Patrick vive de rock, só que de camisetas do rock. E o Marcos eu não sei!
Tags desse texto: Walverdes