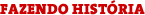Prodigy: futuro de que?
Conclusão definitiva sobre a onda techno que varreu a década de 1990, tirada após o show do Prodigy no Brasil. Publicado na edição número 16 da Rock Press, de outubro de 1998. Foto: Marcos Bragatto.
 Desde que ouvi falar da onda techno, e tive a oportunidade de ouvir, ler, ver alguma coisa a respeito em festas, revistas, televisão, etc, percebi que não existia nada de novo por trás desse rótulo no qual a mídia passou a apostar todas as suas fichas. Por outro lado, com meu convívio com amigos e jornalistas, percebi que havia, ao lado dos oportunistas e vanguardeiros de plantão, gente “do ramo” fazendo a defesa do techno como algo novo e revolucionário, “a música do século 21” ou ainda “o futuro da música”. Pessoas que foram ou viveram o movimento punk de alguma forma, pessoas ligadas ao pós punk e ao rock inglês, pessoas ligadas até mesmo ao heavy metal, e em seus dias de glória. Ou essas pessoas estariam erradas ou estaria eu.
Desde que ouvi falar da onda techno, e tive a oportunidade de ouvir, ler, ver alguma coisa a respeito em festas, revistas, televisão, etc, percebi que não existia nada de novo por trás desse rótulo no qual a mídia passou a apostar todas as suas fichas. Por outro lado, com meu convívio com amigos e jornalistas, percebi que havia, ao lado dos oportunistas e vanguardeiros de plantão, gente “do ramo” fazendo a defesa do techno como algo novo e revolucionário, “a música do século 21” ou ainda “o futuro da música”. Pessoas que foram ou viveram o movimento punk de alguma forma, pessoas ligadas ao pós punk e ao rock inglês, pessoas ligadas até mesmo ao heavy metal, e em seus dias de glória. Ou essas pessoas estariam erradas ou estaria eu.
A notícia da vinda do Prodigy ao Brasil a princípio não me causou qualquer expectativa, seria só um show a mais para cobrir, e, principalmente, fotografar. Mas depois percebi que seria a chance que eu teria para me livrar de minha dúvida, ou, melhor ainda, a última chance para o Prodigy e, por conseqüência, toda a onda techno, me convencer de que representam alguma coisa para o rock e para a música pop em geral. Fui ao Metropolitan com esse espírito. O Prodigy nasceu das famosas raves londrinas, onde milhares de pessoas, movidas a ecstasy, ácido ou qualquer outro alucinógeno, viravam a noite, e em alguns casos, até o dia seguinte, embaladas por uma batida pesada e repetitiva. Pra variar, essas festas se espalharam por todo o mundo, e o Prodigy foi parar no topo das paradas, arrastando toda uma cena clubber e boa parte da imprensa dita especializada junto.
Ao vivo, o Prodigy é a mesma coisa do que em disco. Porque o show é, praticamente, uma gravação. De instrumentos, existem teclados, uma guitarra e uma bateria. Todos inúteis, porque a única coisa que se ouve é o baticum repetido ao extremo. O sujeito que canta não tem carisma, usa um daqueles óculos ovais consagrados pelos clubbers, e praticamente caminha no palco e um lado para o outro. Keith Flint, figura símbolo da banda, caricato, também não convence. E, por fim, nada mais próprio (tal qual o grupo baiano É o Tchan): um dançarino para ir entretendo o pessoal. Sob iluminação estroboscópica, o Metropolitan se transformou em uma imensa festa de um mercado mundo mix. Só que mauricinho.
A produção do palco e o visual do grupo nos remetem a um pós guerra, ao fim do mundo. Mas é só. De todos os adjetivos transferidos pela mídia do rock para o techno, não identifiquei nenhum no Prodigy. Atitude? Mistura de hardcore com eletrônico? Vanguarda? Futuro da música? Ao contrário, o Prodigy não faz nada de novo. Desde que presto atenção no que rola de novo na música pop internacional que a música eletrônica existe e conquista sua fatia no mercado. E ela sempre foi a mesma. Mais rápida aqui, mais pesadinha acolá, mas sempre repetitiva, vazia. Isso é o Prodigy. Isso é o techno.
Sim, sou daqueles que acredita que o rock’n’roll não morreu. Mas sei também como funciona o mercado da música pop em todo o mundo, conheço suas mazelas e suas armadilhas. E sei ainda que a inteligência, a inquietação, a ousadia e a capacidade de criação de um artista vão muito além disso que o Prodigy e todo o techno representam. Por isso não tenho pressa em ser o primeiro a saber, e espero a virada da década (e do século) para que, tal qual o hippie, o punk e o grunge, alguma coisa de revolucionário realmente aconteça.